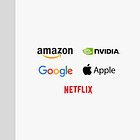Netflix Além das Telas, DeepSeek de Volta, Índia como Espelho e a Apple que Espera para Vencer
Bom dia! Hoje é 19 de fevereiro. Neste mesmo dia, em 1473, nascia Nicolau Copérnico, o astrônomo polonês que teve a ousadia de propor que a Terra não era o centro do universo, e que, ao fazê-lo, não apenas reposicionou os planetas, mas reconfigurou toda a estrutura de poder intelectual e religioso de sua época.
Cinco séculos depois, a revolução copernicana se repete em outros domínios: quem parecia estar no centro da narrativa tecnológica pode, em breve, descobrir que o eixo gravitacional mudou de lugar, e que a nova ordem não pede permissão para se instalar.
Nem Só de Assinaturas Vive a Netflix
Durante anos, a Netflix foi lida pelo mercado como uma empresa de assinaturas, um modelo simples, previsível e elegante. Pagar mensalmente para não ver anúncio era, inclusive, parte de sua proposta de valor original. Contudo, esse capítulo está sendo silenciosamente encerrado. Segundo um novo estudo da Warc Media, a receita publicitária da plataforma deve atingir cerca US$ 3 bilhões ainda em 2026 e, de acordo com as previsões, ultrapassará US$ 8 bilhões até 2030.
No ano que vem, nessa nova empreitada, a Netflix deverá controlar 9,2% de todos os gastos publicitários em TV conectada globalmente, totalizando quase dez pontos percentuais conquistados em apenas dois anos. É uma clara virada no modelo de negócios por parte da empresa.
O que está em jogo aqui, de fato, vai além de uma nova linha de receita. A Netflix, com 325 milhões de assinantes pagos e cerca de 200 bilhões de horas consumidas anualmente, opera hoje como um dos maiores ambientes de atenção humana do planeta, superando facilmente redes de TV aberta, portais de notícias e, em certos segmentos demográficos, até o próprio YouTube.
Quando uma plataforma com esse alcance decide monetizar atenção por meio de anúncios, ela não apenas entra no mercado publicitário, mas ela o redesenha. Afinal, anunciantes que antes distribuíam verba entre dezenas de veículos passam a ter um ponto de contato único com audiências segmentadas, engajadas e verificadas - algo que a TV linear nunca conseguiu oferecer com essa precisão.
O movimento se torna ainda mais estratégico quando lido em paralelo à disputa pelos ativos da Warner Bros. Pois, nesse sentido, a eventual incorporação dos estúdios (o que inclui o HBO Max) ampliaria o portfólio de propriedade intelectual da Netflix em uma escala raramente vista na indústria do entretenimento, e, com ele, a capacidade de oferecer aos anunciantes aquilo que o mercado chama de “narrativa premium”: conteúdos de alta atenção, com comunidades de fãs engajadas e franquias com décadas de valor simbólico acumulado.
A lógica, ao fim, é a mesma que move qualquer grande plataforma de atenção: não basta ter audiência, é preciso ter contexto, ou seja, complexidade de dados. E contexto, no mercado publicitário, vale cada vez mais do que o simples volume de impressões.
DeepSeek Retorna e o Mercado Prende a Respiração Mais uma Vez
Em janeiro de 2025, o lançamento do modelo R1 da DeepSeek provocou um abalo sísmico nos mercados globais. A Nvidia perdeu mais de US$ 500 bilhões em valor de mercado em um único pregão.
Toda esse quebradeira ocorreu pois a narrativa de que modelos de inteligência artificial de fronteira exigiam bilhões em infraestrutura e chips de última geração foi colocada em xeque de forma brutal e repentina por uma empresa chinesa relativamente desconhecida. E, agora, para a infelicidade das gigantes Ocidentais, a DeepSeek se prepara para repetir o movimento com o lançamento do V4, um modelo especializado em codificação, com janela de contexto superior a 1 milhão de tokens e um custo projetado de US$ 0,27 por milhão de tokens via API.
Para comparar: modelos concorrentes operam na faixa de US$ 15 por milhão de tokens. A diferença, e portanto, a economia, seria de mais de 50 vezes.
A magnitude dessa disparidade de custo - se, desta vez, acoplada de eficácia real e um viés “menos chinês” - não é apenas um detalhe técnico, mas é uma nova ameaça ao modelo de negócios de empresas como OpenAI, Anthropic e Google (modelos que, em regra, gastam bilhões para treinar seus LLMs).
Afinal de contas, desenvolvedores, startups e empresas que hoje constroem produtos sobre modelos americanos serão confrontados com uma escolha cada vez mais difícil de ignorar: continuar pagando um valor considerável por modelos ocidentais, ou migrar para uma alternativa chinesa que, segundo testes internos da própria DeepSeek, supera o Claude 3.5 Sonnet e o GPT-4o em benchmarks de codificação.
Evidentemente, essas afirmações ainda aguardam validação independente - e a história da IA está repleta de benchmarks que impressionam em laboratório e decepcionam em produção. Mas mesmo a possibilidade já é suficiente para movimentar mercados.
Sob outro ponto de vista, o que torna o retorno da DeepSeek especialmente revelador é o que ele diz sobre a estratégia chinesa de longo prazo. Afinal, cada lançamento chinês não é apenas um produto; é uma demonstração de capacidade soberana.
A China, submetida a restrições crescentes de exportação de chips americanos, está respondendo não com recuo, mas com inovação forçada, desenvolvendo arquiteturas que fazem mais com menos, que reduzem dependência de hardware de ponta e que, ao adotar código aberto como estratégia de distribuição, constroem adoção global sem precisar vencer batalhas regulatórias mercado a mercado. Se o V4 entregar o que promete, o segundo tremor de DeepSeek pode ser ainda mais intenso que o primeiro.
A Índia Como Espelho
A Índia acaba de se consolidar como a quarta maior economia do mundo em PIB nominal, um resultado não emergiu do acaso, mas de uma aposta de décadas na formação de capital humano técnico em escala industrial.
Agora, a OpenAI anunciou parceria com seis instituições de ensino superior indianas para alcançar mais de 100 mil alunos, professores e funcionários no próximo ano. O movimento acompanha iniciativas semelhantes do Google, que identificou a Índia como o maior mercado global de uso de suas ferramentas Gemini para aprendizado, e da Microsoft, que expande seu programa de capacitação em IA em parceria direta com agências governamentais locais. O padrão é inequívoco: as maiores empresas de tecnologia do mundo estão correndo para moldar como a próxima geração de indianos aprende, pensa e trabalha com inteligência artificial.
A dimensão estratégica desse movimento vai muito além da filantropia educacional. Quando a OpenAI, o Google e a Microsoft investem no ensino superior indiano, elas não estão apenas distribuindo ferramentas, mas estão definindo alguns padrões. Pois, quem ensina a usar IA, define como ela é governada, quais casos de uso se normalizam, quais riscos são tolerados e, sobretudo, qual ecossistema tecnológico se torna a referência para uma geração inteira de engenheiros, gestores e tomadores de decisão.
A Índia entendeu essa lógica antes de muitos: ao criar um ambiente regulatório favorável à experimentação e ao investir sistematicamente em educação técnica, o país transformou sua população jovem de vulnerabilidade demográfica em vantagem competitiva.
Infelizmente, o contraste com o Brasil é difícil de ignorar. Ambos os países possuem populações jovens massivas e conectadas, mercados internos expressivos e ecossistemas de startups em desenvolvimento. Mas enquanto a Índia constrói infraestrutura de capital humano para a era da IA - com governo, universidades e big techs operando em alinhamento -, o Brasil segue preso em debates regulatórios, com taxas de juros que sufocam o empreendedorismo e uma agenda educacional ainda desconectada das demandas da economia digital.
A pergunta que o caso indiano impõe não é técnica, mas política: um país pode se tornar relevante na economia da IA sem decidir, conscientemente e com urgência, que educação tecnológica é prioridade de Estado?
Parada ou Segura? Qual a Lógica da Apple?
Há uma certa ironia em observar a Apple durante a corrida pela inteligência artificial. Enquanto Amazon, Google, Microsoft e Meta despejam dezenas de bilhões de dólares em GPUs, data centers e modelos fundacionais, a Apple parece assistir ao espetáculo de camarote, sem pressa, sem alardes, sem grandes anúncios. Para analistas acostumados a medir relevância pelo volume de investimento declarado, isso parece passividade. Mas, na prática, pode ser o movimento mais sofisticado da década.
A lógica da Apple é funcionalmente diferente da de seus concorrentes porque sua posição competitiva não depende de quem constrói o melhor modelo de IA, mas depende de quem controla o ponto de contato com o usuário final.
São 2 bilhões de iPhones ativos no mundo. Isso significa que a Apple não precisa ganhar a batalha dos modelos pois ela é dona do campo onde essa batalha será disputada. E, ao assinar um contrato de licenciamento de US$ 1 bilhão por ano com o Google para garantir acesso ao Gemini, a empresa adquire, a custo marginal ínfimo, uma capacidade que custou dezenas de bilhões para ser construída, ao passo que mantém suas reservas de capital intactas para o momento em que a corrida se consolidar e a aposta certa se tornar mais legível.
Esse movimento cria, contudo, uma interdependência mais complexa do que parece à primeira vista. A narrativa de que “a Apple detém a distribuição e o Google detém a inteligência” é sedutora, mas incompleta, porque o Google também é dono de distribuição, e em escala comparável: o Android domina mais de 70% do mercado global de smartphones, o Chrome lidera os navegadores e os Pixel devices avançam gradualmente como vitrine de hardware próprio. Em outras palavras, o Google não depende da Apple para chegar ao usuário final, este acordo só lhe é conveniente, não fundamental.
Por outro lado, para a Apple, a equação é diferente: ao não desenvolver sua própria camada de inteligência, ela cria uma dependência justamente no componente que promete mudar toda a cadeia de valor de uma próxima geração, seja dos wearables aos aplicativos, da saúde ao entretenimento. Cada nova categoria de produto que a Apple quiser explorar precisará, em algum momento, responder à mesma pergunta: de qual IA isso depende? E quem a controla?
A história da tecnologia é repleta de exemplos de empresas que dominaram o hardware enquanto o valor migrava silenciosamente para o software. A Apple sabe disso melhor do que ninguém, afinal, foi exatamente assim que ela derrotou a Nokia. A questão é se, desta vez, ela está do lado certo do movimento.